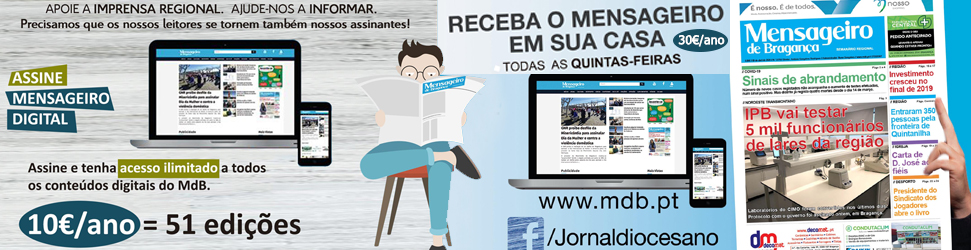"Precisamos de cartões de acesso aos edifícios e de medir todos os dias a temperatura"

Ana Carmo tem 31 anos, é arquiteta, natural de Bragança e está na China há dois anos. Viveu por dentro o início da pandemia. Numa entrevista exclusiva ao Mensageiro, conta como foram passados os últimos meses no olho do furacão. Os novos hábitos, a forma como se lidou com o início da epidemia de covid-19 e a segunda vaga que se avizinha foram temas abordados por esta brigantina que já se tornou instrutora de karaté.
Mensageiro de Bragança: Como tem sido vivida a pandemia por aí?
Ana Carmo: Pequim era uma cidade fantasma em fevereiro. Não tivemos uma quarentena obrigatória mas a cidade estava deserta, pois as pessoas estavam com medo e no dia-a-dia, em condomínio ou comunidades, como eles lhes chamam, foram adotando regras distintas, mais ou menos apertadas e rígidas conforme o nível de risco do local ou se havia ou não infetados. No entanto, quase tudo estava fechado, todo o tipo de estabelecimento, ginásios, cabeleiros, até bombas de gasolina. Mantiveram-se os supermercados e mercados, alguns restaurantes fecharam, outros mantiveram o trabalho, mas à porta fechada, funcionando apenas para entrega, e, assim os “kuaidi” (serviço de entrega) mantiveram-se ativos sempre, levando comida ou abastecimento a quem comprava via as aplicações existentes. Mas os “Kuaidi” não entravam, deixavam a comida ou encomendas em prateleiras distribuídas pelos números dos edifícios à entrada. Aliás, ninguém podia entrar no condomínio que não aquele onde vivesse. Para tal foram distribuídos cartões dados aos moradores após apresentados a identificação e o contrato de compra ou aluguer da casa. Quem verifica a entrada e saída do condomínio são os Baoans (digamos que algo do género de seguranças) que ainda hoje medem a temperatura a cada pessoa que entrada na comunidade. O voltar ao normal foi um processo lento. Alguns de nós começamos a trabalhar logo em março, outros em abril e, mesmo assim, alguns por turnos, trabalhava-se semana sim, semana não, ou então por dias ou horas definidas de forma a não sobrelotar os escritórios e os edifícios. Mesmo aí tivemos de provar a nossa presença na capital pelo menos há 14 dias (antes de se regressar ao trabalho foi determinado 14 dias de quarentena a quem regressasse à capital) a partir do scan de um código QR que usava o GPS. Também precisamos de cartões de acesso aos edifícios e de medir todos os dias a temperatura. Em maio, as coisas tornaram-se melhores, embora ainda com a obrigação do uso de máscaras na via pública, havia mais restaurantes abertos, embora não lotados, mediam a temperatura e surgiu o “Jiankang bao (código de saúde)” onde podia aparecer verde, laranja ou vermelho conforme a nossa situação. Convém, no entanto, que esteja sempre verde. A dia 1 de junho, tudo abriu, tudo voltou a normalidade e o uso de máscaras já não era obrigatório, mas quase nenhum de nós a largou, na realidade.
MDB.: Chegou a temida segunda vaga?
AC.: Acho que ao segundo dia que surgiram dois novos casos de infetados, todos nós pensamos que uma segunda vaga era possível. É algo silencioso e altamente contagioso que a cada momento pode sofrer alterações. Em 14 dias muita coisa pode acontecer, principalmente numa cidade tão grande e cujo ritmo é frenético.
(Artigo completo disponível para assinantes ou na edição impressa)