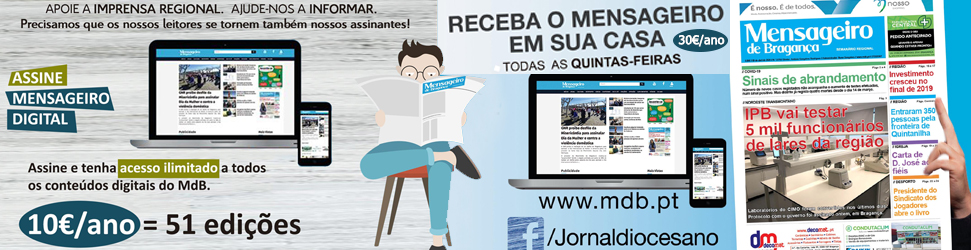A TRAGÉDIA
Quando, no ano de 135, o Imperador Adriano esmagou a insurreição dos judeus, destruiu o Templo, e dispersou os sobreviventes pelos vastos territórios do Império e adjacências, não destruiu a religião que os identificava, mas tirou-lhes a ligação física com a terra em que uma comunidade instala um governo, e organiza portanto um Estado. Verificou-se um fenómeno socialmente importante, e seguramente não planeado, o qual foi que, no local em que ficaram os sinais do Templo (o Muro das Lamentações), a cidade de Jerusalém se tornou no centro de várias religiões, seguidas por judeus, cristãos de todas as tendências, muçulmanos mais tarde. Que muitas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo mantivessem a lembrança da origem, e o sentimento de revolta como componente de um sonhado novo futuro, foi sempre um facto importante, e pouco considerado como relevante nos Estados em que viveram, com frequência discriminados ou perseguidos, o que na formação de muitas gerações impediu que dessem como segura a passagem de indivíduos para cidadãos em plenitude. Basta por vezes um caso isolado na vastidão da narrativa de séculos, e foi talvez o caso Dreyfus que fez nascer em Theodor Herzl, judeu de Viena, a ideia de transformar a nostalgia de Jerusalém em projeto de Estado Judeu, e assim apareceu o seu livro, com esse nome, que é a pedra fundamental do sionismo. Na guerra de 1939-1945, o Holocausto, logo que conhecido, mobilizou a opinião mundial a favor do projeto, e a adesão dos vencedores, que incluíam as superpotências sobrantes, isto é, a URSS, os EUA, e a Inglaterra, pelo que a ONU, em 1949, legitimou a execução do sonho sionista. Encurtando as recordações do progresso do decidido, tudo se traduziu num conflito variando de intensidade mas sempre armado, e sem nunca tornar viável a ideia de criar dois Estados pacificamente conviventes de acordo com as regras da ONU, e acolhendo a internacionalização de Jerusalém: era o regresso do modelo das cidades livres, com provas dadas no passado, e, no presente, lar comum de todas as religiões que ali, cada uma delas, encontra as suas raízes mais sólidas, e por isso todas deveriam cultivar o respeito reciproco, um valor superior à tolerância, e participando na gestão e progresso da sua cidade, que seria exemplo na perspetiva da terra casa comum dos homens. A Guerra dos Seis Dias, de 1967, parece ter esmagado completamente estas esperanças ao glorificar o surpreendente exército de Israel, impedindo (Barrou e Bigot) que De Gaulle não visse acolhido o seu conselho no sentido de não ultrapassarem a chamada “linha verde”, para não se tornarem ocupantes. O que o general decidiu em relação à Argélia dá credibilidade ao conselho, mas os factos parecem ter evolucionado para a mais grave das circunstâncias: a imposição da soberania sobre a cidade santa de Jerusalém pelo recurso às armas. Bastaria talvez lembrar apenas o comentário de André Malraux sobre a importância das religiões no século XXI, para que as inquietações que rodeiam a discussão sobre a segurança global e a paz subam de gravidade pelo facto de o combate atacar, pela primeira vez, a Cidade Santa de tantas crenças. É evidente que, em vista das circunstâncias internas de Israel, em vésperas de decisões eleitorais importantes, tão difícil seria manter, pelo menos em relação à Cidade Santa, o que sobra do espirito da “linha verde”, como esperar comedimento do Hamas em vista do histórico da sua intervenção. Para que a tragédia suba de gravidade contribuiu o enfraquecimento da ONU como autoridade, e portanto a falha de um mediador entre a legitimidade que Israel invoca e por ela recebeu armas, e a dos árabes que durante séculos ali viveram sem contestação. Os que buscam uma ética mundial, tem mais uma inquietante razão para meditar se a paz mundial será possível sem paz religiosa e diálogo das religiões.