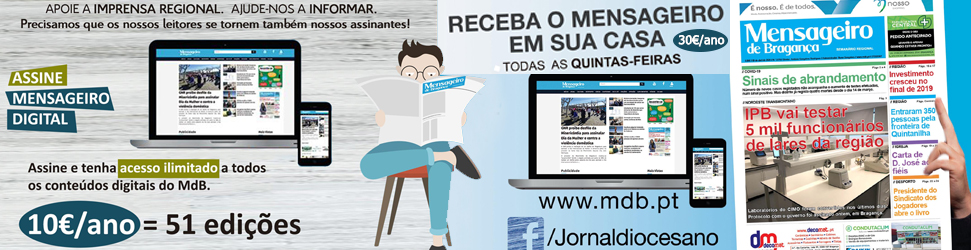Teatro, arte da respiração
No ano em que me estreei em livro (Inconvencional, poesia, 1973), escrevi a primeira de onze peças, agora reunidas em Teatro (Lisboa, Edição do Autor, 2021, 572 páginas). Era o sonho de uma arte participada por todos, como se exigia para uma diferente respiração nacional, politicamente moribunda. A Pedra metaforizava a opressão desse tempo, na figura de polícia que vem prender jovem universitário rebelde, escrevendo peça com o mesmo título, enquanto pai emigrante sufoca, sem perspectivas de amanhã, sob o cinismo do regime. Voto colectivo, homens, mulheres e crianças abrem esta «penetragédia» (seja, quase tragédia, nas soluções corais), transformando um regresso de funeral em manifestação de protesto, em cujos cartazes se lê «Queremos respirar!».
Longe de mim pensar que, 47 anos depois, iria escrever Pandemia, em que a respiração tudo suspende, dos abraços à liberdade. Nestas cem páginas entre camilianas e detectivescas, adensa-se cada psicologia, e não sei se deva realçar oportunismos, as relações intrafamiliares, a construção de uma amizade, a abnegação e o bem morrer. Em off, um narrador enquadra as cenas: imagino projecção no cenário de quanto vemos diariamente nos ecrãs.
Entre estas duas peças, não deixei de questionar outros avanços – na estrutura do Poder, tantas vezes cruel e dissoluto, em que incluo conflitos interpessoais –, também da dramaturgia. Assim, Faca no Sol (1974) debruça-se sobre a construção de uma sociedade sem escravos, em que se arrisque a esperança. Escrita no pós-25 de Abril, troca, no final, o hieratismo do tom pela discussão solta entre os actores (já não as personagens) e o público.
O Golpe (1975) desenvolve A Pedra, no que tem de guerrilha efectiva a um governo de Direita autoritária bajulada pela sua Direita extrema. Quem manda, afinal? O desafio da liberdade, ainda num impasse, como nesse Verão Quente de esquerdas totalitárias e satélites, é compensado por quadros delirantes, validando o à-vontade de encenador imaginoso.
Duas personagens (e um empregado pouco falador) protagonizam Jardim (1977), que já publicara como conto em A Flor e a Morte (1983). O diálogo é a forma suprema de respiração: sem diálogo, asfixiamos. Tento por esta via, desde sempre, uma ficção facilmente adaptável à cena, e mais quando sabemos da dificuldade nacional em ‘falar naturalmente’. Mas deixando, por agora, o risco de contaminação entre géneros, direi da surpresa em ler aí a guerra entre genes masculinos e femininos, e como, em cada um de nós, se disputam, algo que deveria acalmar quem supinamente ignora fundamentos da genética.
Vinte e um anos depois, voltei à nossa condição de mortais: Acidente (1998-2000) começa por ser uma conversa sobre a actualidade entre dois mortos na morgue, cujos gavetões abrem e fecham, a par de existências comentadas por vivos, assim misturando memórias. O absurdo está na vida, nos vícios ou síndromes privados, como divertidamente mostro em Delírio (2015). Cada pausa anuncia uma explosão do sentido. Além de um teatro parco de meios e agentes – e as minhas personagens são mais indicações do que nomes próprios, capazes de desdobramentos, se um encenador quiser seguir esse guião –, junte-se boa disposição, além de um pé no quotidiano que nos afecta.
Diferente das cinco que antecedem e seguem, O Divino (2002) narra os últimos momentos de Almeida Garrett. Há restos de um conflito conjugal, de amores fugidos, da amizade reatada com Alexandre Herculano, eu sei lá! Conheço tão bem este autor, que preferi olhar ao homem, do qual, por vezes, me julgo companheiro. Ele é o nosso primeiro intelectual, cosmopolita por excelência, que sabe vestir bem, unindo coragem e génio brincado. Dá nome a praças, e à mais central de Bragança, que, todavia, não nos lembra. Espoliado da pátria, soube, também soldado, recuperá-la.
A mais longa, Sábado (2012-2013), assenta neste dia de reflexão, véspera do voto. Como ganhar uma eleição contra sondagens e evidências? Deve ligar-se a Doença (2016-2017), inaugurada com longo comício, em que um decrépito Pai da Pátria sobrevive à custa de sósias. Do jornalismo venal a um atentado gratuito, vale tudo, neste pântano e seus miasmas. À atenção, pois, de leitores e eleitores. Outra forma de sobrevivência, cínica e abjecta, é propor uma Guerra Civil (2019). Nesta trilogia, com micro-histórias onde, a par da denúncia, não deixo de exaltar valores, está a violência do nosso tempo, manipulador, em que se respira menos do que julgamos.
Deve a arte, entretanto, opor-se a qualquer veio de tirania; dizê-lo claramente em palco, a bem da nossa saúde.