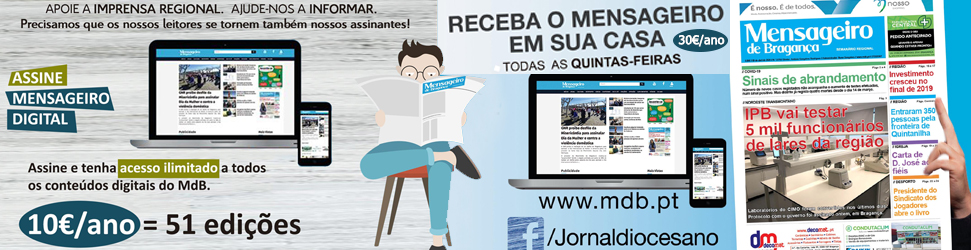Que eu seja o presente
em hoje, deprimido pelo passado que foi e na ansiedade do que há de ser. Paralelamente, olhamos para o presente como uma oportunidade de fruir o mais possível como se não houvesse amanhã, como se tudo se cingisse às vivências desenfreadas das emoções e das sensações corpóreas. Tudo muito poroso, na verdade...
De facto, o problema é o futuro: é pensar que amanhã cá estarei; é ter a certeza que, aconteça o que acontecer, eu cá estarei; é deixar de ter a ideia em mim de finitude, de morte e de juízo. Julgo que esta consciência – muito comum entre nós – leva a protelar as nossas opções fundamentais e a adiar o essencial. O risco de nos perdermos é inominável. E se nos distraímos em ‘fazer coisas’, distraímo-nos, necessariamente, em ser. Aqui reside o problema: a cultura dominante não promove a liberdade humana, mas, antes, escraviza-a sob a insaciável necessidade de ter. É em nós gerado incansavelmente múltiplas necessidades que nos coartam o nosso livre-arbítrio. Tornamo-nos, pois, consumidores. E ser consumidor é ser dependente, ser aditivo, é ser escravo das necessidades. O músico Jorge Palma é muito sagaz ao dizer em “A gente vai continuar” (single do álbum “Só” lançado em 1991) que “todos nós pagamos por tudo o que usamos / o sistema é antigo e não poupa ninguém / somos todos escravos do que precisamos / reduz as necessidades se queres passar bem / que a dependência é uma besta”.
Se pensássemos que teríamos apenas umas horas de vida, isto faria com que nascesse em nós uma nova consciência colectiva e existencial. Uma consciência de finitude que nos iria impelir para a urgência de nos centrar, para a necessidade de nos pôr em movimento, de nos pôr em caminho, de nos dirigirmos ao encontro daqueles que são o nosso baluarte, que são o ‘elan’ da nossa vida, que são a razão e o fundamento da nossa existência. Por outras palavras, poderíamos chamar a este momento o tempo do “hodie” teológico, isto é, o hoje em que a Graça nos transforma, nos modela e nos projecta para a nossa vocação primeira e fundante. É o tempo de reconciliação connosco mesmos, com os outros e com Deus. É o tempo da conversão e do dom.
Na verdade, faz-nos bem pensar. Sabem porquê? Desde logo porque esta postura existencial faz-nos secundarizar e relativizar tantas coisas, sim... coisas. Esta ‘cultura do arrebanha’ suscita em nós tantas e falsas necessidades que, para além de nos impedir de discernir em verdade e em uso pleno da liberdade, nos faz (até) justificar racionalmente que é o ‘ter muitas e variadas coisas’ que sustenta a nossa dignidade como pessoas, como humanos. Eis o absurdo! Variadas vezes justificamos a nossa dignidade pelo princípio da utilidade, ou seja, por aquilo que somos capazes de fazer, de contribuir no activismo da vida comunitária e cívica. Não será nunca o fazer que sustentará a dignidade humana. Se assim fosse, pergunto: onde ficariam as crianças, os idosos institucionalizados e os doentes terminais e paliativos? Nada ‘produzem’, nada fazem, logo isto justifica a sua não dignidade como pessoas humanas? Na verdade, o contributo deles é bem maior do que possamos pensar ou imaginar.
Não somos, pois, fazedores de coisas, mas construtores de seres que – por promoverem o ser – tornam os outros em seres de igual valor e de igual dignidade. Fazer de cada um de nós uma ‘coisa’ é, concludentemente, destruir a nossa inviolável dignidade e tornar-nos – nada mais e nada menos – num objecto, numa coisa, em algo que pode ser manipulado, usado e descartado. Talvez seja esta a grande radiografia filosófica, sociológica e antropológica da actual sociedade e desta cultura dominante e consumista.
Portanto, se queremos valorizar o primado do ser em detrimento do ter, teremos, inevitavelmente, de reformular os nossos actuais paradigmas e as nossas opções fundamentais. É chegada a hora da mudança numa real e partilhada conversão ôntica e existencial.
Termino, como sugestão, com a proposta de José Luís Nunes Martins (filósofo e escritor): “escolha eu ser presente e oferecer o meu tempo a quem precisa de mim”.