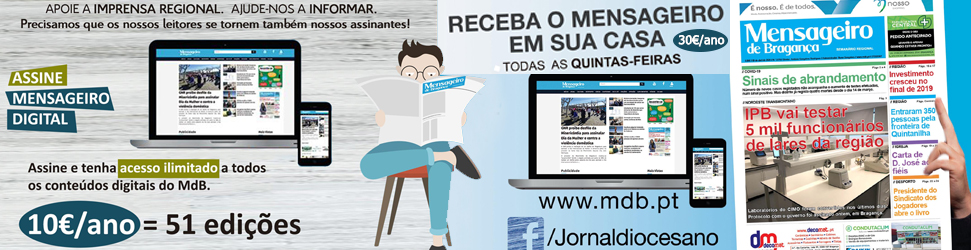Cultura do descarte
O Papa Francisco vem reiteradamente alertando para a ‘cultura do descartável’ que o processo de globalização tem implementado na sociedade actual1. “Vivemos numa época marcada pela pressa, pela agitação e pelo imediatismo. Tais características são típicas de uma sociedade na qual a Globalização da Indiferença está enraizada e como tal produz efeitos nefastos, tais como, não compreender no outro o meu semelhante, o meu irmão, um prolongamento de mim mesmo. Desta forma, este funesto fenómeno, tão presente na nossa época, tende a aprisionar-nos numa redoma de egoísmo e de individualismo, assim, é preciso estar atento e combater a proliferação deste vírus que se manifesta nas mais diferentes formas e níveis” (O Papa Francisco e o combate à globalização da indiferença, 2020).
Já paramos para pensar que passamos grande parte da nossa vida a construir narrativas ou, pior, a acreditar nas narrativas ditas pelos outros e à espera que estes nos validem? Julgamos que a felicidade é um direito e que o seu alcance está somente na minha atitude e comprometimento com essa meta. Ouvimos como verdades absolutas esta enxurrada de ideias positivistas, autorreferenciais e obtusas. Na verdade, é uma amalgama de tudo e, no fundo, de nada.
Apercebemo-nos que a vida, ou melhor dito, o tempo, são uma realidade sem retrocesso. É impossível parar e/ou voltar atrás. A vida e o tempo continuam quer eu queira quer não, quer eu esteja preparado ou não, quer eu o viva ou não, quer eu o imprima de significado e de sentido ou não.
O risco, portanto, está no validar das nossas opções, decisões e acções com base nas pseudonecessidades ou das relativas prioridades que julgamos ter, ou que nos é dito que o são. Há no ar uma certa promessa de felicidade e de bem-estar nesta cultura dominante. Mas, com o passar dos anos levamos ‘um banho de realidade’ e apercebemo-nos que fomos enganados. Pior, apercebemo-nos que nos perdemos em nós mesmos e de nós mesmos, que não fomos capazes de ser vida e luz no outro, de deixar memória e saudade na vida do outro, que não pudemos nem soubemos viver o momento e a vida como dom e graça, como uma oportunidade e uma ocasião irrepetível de sentido, de significado e de missão.
Muitas são as perguntas que se levantam: se eu pudesse viver de novo a minha vida o que mudaria? O que faria diferente? Quem seria e o que seria para alguém? Que consciência teria eu da minha finitude, debilidade e carência? Quem seria eu se deixasse que Deus fosse em mim o actuante e protagonista principal? Que marca e que lembrança deixaria no coração dos outros?
Confesso que gosto muito de ler (de re-ler) a magistral obra de Alan Alexander Milne (autor inglês, 1882-1956), “Winnie-the-Pooh”. Este conto infantil é, na minha óptica, um belo texto de filosofia. Nele encontramos como identidade e alteridade se cruzam, permitindo a diferença e a inclusão, e a construção de uma rede de relações fraternais, genuínas e autênticas. Aqui, a violência do ego (do egoísmo e do egocentrismo) não tem lugar. Tudo concorre numa linha de cooperação e de fraternidade. Na verdade, esta não disrupção entre identidade e alteridade, faz com que o livro termine, brilhantemente, com a afirmação profética que “o menino e os amigos (animais) sempre jogarão juntos”. Esta frase dever-nos-ia tocar bem no fundo de nós mesmos. As pessoas sacrificam a sua alegria, a sua diversão, desejando-se levar por necessidades inconscientes de validar a sua existência.
Introduzo este conto infantil para sustentar a ideia de Byung-Chul Han de que a expulsão do outro e a implementação da positividade do igual trazem consigo graves problemas na unidade relacional entre identidade e alteridade. E, com isso, levantam na sociedade e no pensamento actual um conjunto de problemas e questões: de sentido e de significado, de propósito e de missão, de pertença e de comunhão2.