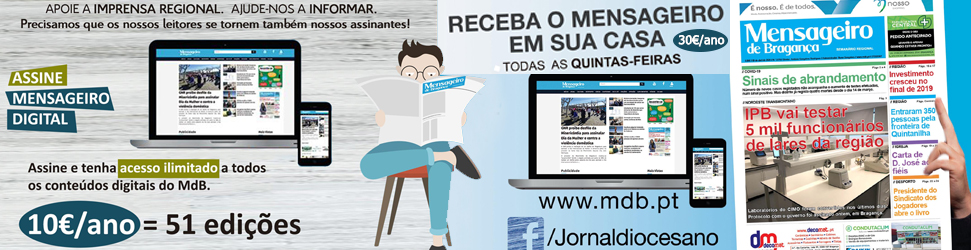Paulo Jorge Fidalgo: perda, pedra
Quis Paulo Jorge Fidalgo (Freixiel, Vila Flor, 1963) celebrar 60 anos de vida e 30 de poesia em 2023, com o lançamento de Poemas de Ver. Falei desse terceiro volume de poesia – quase secreto, pois impresso em 2108.
Estreou-se em 1993: Síntese Poética da Conjuntura começou por ser Arte de Nada. Mercadejava processos de recusa existencial? Não. Referia-se à leveza da experiência lírica? Talvez. Por que razão encimava sextilha a abrir crónica de ‘amores’, em que o canto – se amado por deuses – «feliz de ganhar se perdia»? Essa perda não repousa em negativo, porquanto se perfila multifuncional – cinco partes: oráculo, lira, boca, engenho, vida –, num processo de ser que exige interlocução.
Nobres ascendentes eram, à flor do texto, Ricardo Reis, Camões, D. Francisco Manuel de Melo (que, defensor do vário coração, lança a inaugural epanáfora, ou crónica epistolar do sujeito) e Jorge de Sena, que reitera devermos ser tudo em todos. A alegre variedade da natureza, topos renascentista propiciador de tantos jardins públicos em nós guardados, é cultivada nas veredas da memória africana e transmontana; a função pré-novelesca das cartas em verso é retomada e uma história flui, ora entremostrada, ora sigilosa, como convém ao género. Na brevidade dos textos, fácil é ler o envolvimento com os registos oficinais desses idos séculos, em felicidade casando no pormenor realista e lexical da terra nordestina, numa relação «de suprema fidelidade».
Esta ‘litania’ muito particular constitui, ao lado do poema inicial, o momento alto do livro. “Praça da Sé” concentra em si uma força evocativa tal, que concluo ser a crítica inane quando a vida está fora dos nossos esquemas. Não há espaço para revelar esse poema (igualmente em sentido fotográfico) com apontamentos histórico-culturais.
Poemas de Ver parte de fotografias de José Rodrigues. A relação entre artes é uma velha história. Os textos homéricos inspiraram bustos, esculturas de divindades e semideuses, até ao filme Tróia (2004), protagonizado por Brad Pitt. Mais do que a Ilíada, a Odisseia serviu de palimpsesto à principal linhagem literária, cujo exemplo maior é o Ulisses, de Joyce, até às Ítacas de Manuel Alegre. A Bíblia, entre as obras fundadoras da cultura ocidental – em que certos motivos são retomados da egiptografia –, transformou-se em inspiração decisiva: basta ver o ciclo interminável, em várias artes, da Virgem e o Menino. Hoje, estamos habituados a passar do livro ao filme, ora leitura cega, ora adaptação, desenvolvimento, guião. Com o acesso das massas aos bens culturais, no séc. XIX, a relação inter-artes fez-se mais feliz a partir de libretos musicados. Mas seria com o diálogo entre pintura/escultura e poesia que os estudos literários se debruçaram sobre a ekphrasis, écfrase, ‘descrição’ em grego, a qual, como demonstra Poemas de Ver, é mais do que a descrição que uma arte faz de outra arte.
O título desta luxuosa edição remete para o processo lírico em si e para a imagem que precede, num convívio iluminador. Não se trata só de descrever, tanto mais que a imagem nem sempre é denotativa, ou seja, com uma referência imediata: o procedimento é visual, rastreador de pequenos elementos na fotografia, interpretação autoral de duas subjectividades – a do poeta sobre a do fotógrafo –, mas, assente no ritmo verbal, há uma transferência auditiva, que responsabiliza cada um de nós, novos intérpretes.
No panorama lusíada, a ecfrástica deve muito a Jorge de Sena, em Arte de Música (1968), a partir de composições célebres. Mas é mais conhecida a leitura de obras-primas da pintura e escultura em Metamorfoses (1963), cujo primeiro título pensado era Museu.
A primeira teorização foi cristalizada na Arte Poética de Horácio, «ut pictura poesis» (v. 361), como a pintura, a poesia – seja, a pintura (porque não a fotografia?) é poesia calada e a poesia, pintura que fala, segundo o poeta Simónides de Céos citado em Plutarco (Moralia 346 ss). Esta dupla imitação fez o seu curso, com relevo para o visual barroco simultaneamente poema, retomado nos caligramas de Apollinaire e nas vanguardas novecentistas. Entre contemporâneos mais discretos, veja-se Italy – 41 Impressions, de Mário Cláudio (1979), lendo seis “Vasos etruscos”. O Lugar do Amor (1981) e Décima Aurora (1982), de António Osório, organizam um universo histórico-cultural entre egípcio e italiano, fundeado em pintura, mas não só, face à trindade Vivaldi, Chagall, Sócrates. Sucedem outros: Fernando Guimarães, Mulher e Na Voz de Um Nome (ambos de 2006), José Manuel de Vasconcelos, A Mão na Água Que Corre (2011), João Ricardo Lopes, Carlos Frias de Carvalho. Amadeu Baptista, em Sistina (2011), decompõe esta capela. Conforme ao livro de hoje, Discurso Amoroso (2006), de Maria Aurora Carvalho Homem, ilustra-se com o escultor Francisco Simões. Amadeu Lopes Sabino, em Felix Mikailovitch (2022), apoia-se em Magritte e Delvaux para esclarecer quadros da ficção. Em Helder Macedo, Pedro e Paula (1998), cinema, música e pintura desejavam-se já estruturantes, continuando, mesmo… Casablanca. Eu mesmo glosei uma trintena de pintores e alguns músicos, e construo metros segundo acordes jazzísticos. O exemplo mais recente é Luís Cangueiro, cujo álbum Cem Olhares (2023) oferece fotografias interpretadas por cem amigos. Há também écfrase por alusão: Cesário Verde não terá conhecido as composições vegetais e frutíferas do quinhentista Giuseppe Arcimboldo, e, todavia, é o que entrevemos “Num bairro moderno”: «Subitamente – que visão de artista! – / Se eu transformasse os simples vegetais, / À luz do Sol, o intenso colorista, / Num ser humano que se mova e exista / Cheio de belas proporções carnais?!» Na tradição letrista, João Vieira pinta letras isoladas, e, mormente, versos de Cesário, Camilo Pessanha e Pessoa, ou de três poetas húngaros que lhe traduzi, sexteto visível em duplo painel na estação central do metro de Budapeste.
Sirva este apanhado breve, algo diversificado, para integrar Paulo Jorge Fidalgo num complexo inter-artístico visual, saturado desde o título, sendo questão de ver. Como ele não é herói nem santo (não sabe caminhar de olhos fechados), mede-se no que vê, sente e nos significa, até onde podemos interpretar. O decálogo, ou tábuas das leis de ver, que nos propõe de entrada seria já uma proposta de leitura. Mas entremos por outro caminho, via diálogo entre as páginas pares e ímpares, atrás de uma história sugerida, entrevista, pelo artista do verbo criada, enfim, em busca de uma identidade explicitada no trigésimo terceiro e último passo confessional.
Algumas considerações prévias são devidas e, desde logo, uma condição sine qua non: fotografias e poemas vivem por si. À densidade visual daquelas corresponde a agudeza de um olhar tenso, pulso firme, sem tabus.
Na ordem da composição, será interessante ver como se conciliam títulos ou referências em verso: faz-se interpretação livre das imagens, se o quadro é abstracto, pegando num elemento (nesga, pedra, torrente…); se mais figurativo, interpreta-se ‘avidez’ num impressionista e ‘muralha’ num pontilista. De súbito, a fusão dos elementos ar e água opera uma reversibilidade entre céu e mar, cujo azul comum nos transporta alhures, em quadra memorável: «Troco o céu pelo azul do céu / e troco o mar pelo azul do mar / sou mais cor que realidade / e sou mais feliz que a felicidade.» Trata-se de um concentrado íntimo, avesso ao insuficiente conceito de felicidade; estamos perante um exercício de plenitude, próprio da pintura suprematista de Malevitch, desembocando na tela cheia de Mark Rothko.
Esta relação especular, mar-céu, céu-mar, em fusão, é o percurso do sujeito desde o segundo verso com um tu recorrente («e o teu brilho humedeceu os olhos») a constituir-se cedo em nós, fazendo já «parte de uma história» familiar, na “paz dos dias”, “antes de morrer”, título do poema imediato, conjugando tu e nós. A morte, qual o Acaso, povoa outros lugares: entre “despojos” e “sobras”, títulos significativos, lá iremos todos: «Basta esperar.», pois «tudo acaba».
Estas palavras encerram as linhas mais erotizantes, fortemente metaforizadas (não poucas metáforas circulam por aqui) e cuja tradução da foto se faz em giros inesperados: o «ângulo morto das tuas pernas» figura um ninho em que se planta viva aresta, transformando o suor-húmus do leito em desejo de árvore, subsumindo ramificação no lar.
Subvertendo a dominância fotográfica céu-mar, ar e água, o verso impõe este fogo – noutros sítios, mais discreto – e, sobretudo, a âncora do tangível, da terra. São limites a pele e a pedra, intervalando pérolas, areia, montanha, muralha, calhau, fraga, calço, pisa-papéis, galáxia convocando escopro e cinzel, que não vencem a dureza do auto-retratado, quando se legenda: “sou uma pedra”. Se água existe, ela está no corpo de ambos, reza “de ti para mim”; ou, se nos torna mais «profundos», de facto, a água desgasta-nos.
O tom familiar e achados de artista salpicam o quadro. Fórmulas como «preço módico / e fácil de pagar», «escusado será dizer», «mais do que a conta», fazem-nos sentir próximos, trazem calor à casa. Costurar a pele do dia, sermos «orientados pela respiração das aves», chamar o tempo e sentá-lo na varanda – isto é para raros. Lembra, aqui, Rimbaud: «Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux.», que já deve ter inspirado Jorge Sena: ««A felicidade sentava-se todos os dias no peitoril da janela.» (Perseguição, 1942) Aquele tom e estes achados convergem no mesmo “tempo”, com que se conquista altíssima temperatura lírica, nessa «conversa maçadora / até para um santo ajoelhado na alvorada do paraíso».
Cada poema justificava demora, na intensidade do sugerido, na dúvida se “pedra angular”, título do segundo, já em conjunção com outrem, convoca mulher, filha / «ilha minúscula», ou a palavra em desequilíbrio, qual a pedra fotografada sobre um abismo líquido, a lembrar outras pedras de Magritte.
A «suprema fidelidade» de Síntese Poética da Conjuntura ainda assoma, bem como toques de memória ou braço dado aos ascendentes. Mas a inelutável erosão da vida transforma-nos em seres apreensivos, ora angustiados no timbre destes metros, ora com vontade de apreender o que já escorre entre os dedos e se perde. Perda, pedra – nestas cinco letras se debate o coração de um poeta a auscultar com atenção.